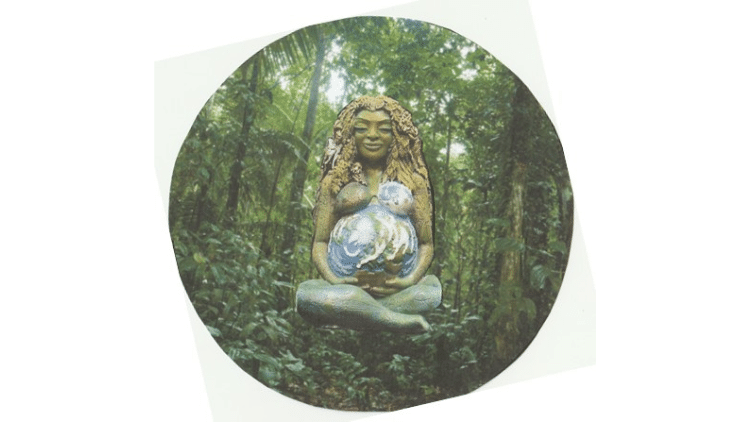Resumo: Quero te propor um convite para fazer uma travessia, numa proposta de diálogo entre a Psicologia Junguiana e a sabedoria dos povos originários. Ao aproximar o conceito de unus mundus da visão indígena de pertencimento, há um direcionamento para um caminho simbólico que revela a íntima correspondência entre o que somos e o mundo que habitamos. Ao reconhecer que cada rio contaminado e cada floresta destruída representa uma ferida na alma coletiva, percebemos que a separação entre o ser humano e a natureza é também uma fratura no tecido do unus mundus, rompendo a continuidade entre o visível e o invisível, o interno e o externo. Somos então convidados a restaurar a escuta, a presença e o vínculo com o sagrado da Terra como experiência viva e relacional. Como nos convida Ailton Krenak, devemos sonhar o mundo com o mundo pois, nesse sonho compartilhado entre psique e natureza, quem sabe reencontremos a inteireza que esquecemos em nós e ao nosso redor.
Com o avançar das pesquisas em mitologia indígena brasileira, pude perceber uma certa sinergia entre as cosmovisões indígenas brasileiras e os saberes junguianos.
Por isso, gostaria de propor uma travessia, um encontro entre ambos os olhares. Como os conhecimentos tanto dos povos originários quanto junguianos são muito vastos, proponho um recorte para ampliarmos o conceito de unus mundus.
Para Jung (OC 8/2, §418) “psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, acham-se permanentemente em contato entre si (…) [provavelmente] matéria e a psique sejam dois aspectos diferentes de uma só e mesma coisa”, ou seja, Jung propõe que unus mundus é uma experiência viva de unidade entre a psique e matéria, alma e mundo, dentro e fora.
Conforme a cosmovisão indígena, por viverem intrinsecamente conectados à natureza e se sentirem pertencentes a ela, os povos originários estão completos e ligados ao equilíbrio do Universo. Por isso, unus mundus é uma experiência que vivem com naturalidade, pois para eles a Terra é sagrada, viva, uma Grande Mãe. Eles estão integrados à natureza, num campo unificado da existência onde tudo é relacional.
As sociedades que vivem fora das aldeias indígenas tiveram diluídas este princípio de pertencimento à natureza, nós dissociamos.
Esquecemos, por exemplo, que o corpo é constituído de células vivas e regenerativas, que somos compostos em média por 70% de água, que precisamos do ar para viver. Anestesiamos a consciência de que a Natureza, a Terra são sagradas. Por isso, o pensador, filósofo e educador indígena Daniel Munduruku (2019, p. 13) nos provoca ao dizer que quem precisa de religação não é o indígena e sim os “brancos”, que estão desconectados da harmonia do cosmos. Para ele, pertencer é muito mais do que fazer parte de um lugar, grupo ou cultura, é estar enraizado no tecido invisível que sustenta todas as coisas, reconhecer-se como célula viva de um corpo maior (o corpo da Terra).
Na cosmovisão dos povos originários, essa vinculação é uma vibração sutil que nos alinha com o ritmo da natureza, o ciclo da água e a respiração da floresta, é habitar o mundo com consciência simbólica, como quem sabe que tudo comunica, pulsa, tem espírito. Por isso, Munduruku (2019, p. 13) diz que “o pertencimento é o princípio do pensamento cósmico”, pois é dele que nasce a percepção de que o universo é um organismo vivo e relacional. Não há fora, não há outro, tudo é expressão da mesma fonte. O pensamento que emerge desse chão é circular e orgânico, que se reconhece na interconexão a sua própria forma de existir (unus mundus).
Como estamos apartados do princípio de união à Terra, nossa sociedade expressa uma potente sombra coletiva na tentativa de dominação e subjugação da natureza.
A cisão entre ser humano e o planeta gerou um vazio ontológico que a modernidade tenta preencher com controle, extração e acúmulo. Essa sombra coletiva age com força destrutiva que nega a alma da Terra – Anima Mundi – e se torna incapaz de reconhecê-la em si mesma. Ao envenenar os rios em busca de ouro, os alimentos com pesticidas, ao cometer ecocídio em busca de minério e pedras preciosas, estamos também assassinando todo um sistema orgânico e pulsante de vida. Se psique e matéria estão interconectados, ao “assassinar” a natureza também estamos simbolicamente exterminando a alma.
Ao nos apartarmos do princípio de pertencimento à natureza, perdemos o eixo simbólico que sustentava nossa inteireza.
Se em unus mundus psique e matéria são dois aspectos de uma mesma realidade, então cada árvore tombada, cada rio morto, cada floresta queimada não deixa de representar uma ruptura no fluxo da vida, onde interrompemos o diálogo com a alma do mundo. O drama ambiental é mais amplo que uma crise ecológica, é também uma crise arquetípica, neste processo simbólico de rompimento com a Anima Mundi conforme citado.
Krenak (2024[1]) nos convida a pensar que nós vamos ter que nos reconciliar com a Terra nos termos dela, nos deixar educar por ela, ter coragem de ouvi-la e atender suas demandas.
Para que esse processo de religação aconteça, é preciso revisitarmos a sombra pessoal e coletiva que nos acerca pois “a sombra coletiva, agregada e institucional sempre contém a sombra não examinada de cada um de nós” (HOLLIS, 2010, p. 138), visto que “não há possibilidade de cura ou de melhoria no mundo que não comece pelo próprio indivíduo” (JUNG, OC 7/2, §373). Jung (OC 16/2, §508), afirma que “a pura natureza está dentro de vós”. Continua a refletir que, ao reconhecer a natureza que é nosso verdadeiro ser, “liberto de todo egoísmo perverso, então conhecereis a Deus; pois a divindade está oculta dentro da pura natureza, tal como a noz no envoltório da casca”.
Este “divórcio” psíquico, cultural e espiritual que atravessamos, faz com que tenhamos uma percepção distorcida e redutiva de que a Terra é apenas um objeto, um recurso a ser explorado, uma coisa utilitária, e esquecemos que ela é antes de tudo uma grande mestra, um símbolo profundo e o espelho vivo da alma humana. Quando nos desligamos da sua pulsação, deixamos de reconhecê-la como imagem sagrada e presença arquetípica, como receptáculo do mistério de que dependemos para existir. Olvidamos que “a natureza é um contínuo, e muito provavelmente a nossa psique também o é” (JUNG, OC 18/1, §181), ou seja, ao nos afastamos da Terra e de nós mesmos, fragmentamos a unidade profunda que sustenta o laço entre a alma e a Anima Mundi.
“Os produtos do inconsciente são pura natureza (…) Ela não é por si só um guia, pois não existe em função do homem. Mas se quisermos valer-nos dela como tal, poderemos dizer com os antigos (…) se tivermos a natureza por guia, nunca trilharemos caminhos errados” (JUNG, 2011, OC 10/3, §34).
Em sua necessidade de controle e ordenação, nosso ego tende a buscar e projetar um Deus fora, como um Ser absoluto colocado em altares externos ou pairando em céus inatingíveis.
Despersonalizamos a Terra e nos esquecemos que ela é em si um dos mais antigos e sagrados símbolos vivos da divindade, expressão arquetípica do feminino primordial e do mistério encarnado.
À luz do conceito de unus mundus, ao desfigurarmos a Terra de sua sacralidade, ferimos a alma, rompemos a tessitura sutil entre o mundo objetivo e o mundo interno, entre a consciência e o inconsciente, o visível e o simbólico. Faz-se necessária a percepção que o Deus que buscamos está dentro, é nossa imago dei, a centelha arquetípica do divino que nos habita e nos conduz à totalidade. Além disso, como aspecto projetivo e simbólico, este Deus (ou Grande Espírito conforme a cosmovisão indígena), não deixa de estar presente na seiva das árvores, no solo fecundo, na fluidez dos rios, na floresta pulsante, nos sonhos… Escutar a Terra é, simbolicamente, escutar o inconsciente coletivo. E talvez seja justamente numa escuta silenciosa, reverente e arquetípica que reencontremos o fio do sagrado que nos liga ao todo.
Talvez o que nos falte é coragem moral para ressignificar nosso olhar, pois não há como ver o mundo sem nos vermos a nós próprios.
A forma como percebemos a Terra e a natureza tende a refletir a forma como habitamos a nós mesmos. Na cosmovisão indígena, o mundo é um espelho relacional, onde tudo é vida em correspondência e Jung nos recorda que projetamos fora o que não reconhecemos dentro, ou seja, observar o mundo passa a ser um exercício de autoconhecimento simbólico. Por isso, ao perdermos a visão de mundo tendemos a perder a visão da alma.
Muitas vezes o que falta é mais coragem moral do que propriamente inteligência, pois não podemos ver o mundo sem nos ver a nós próprios, e da mesma maneira como o indivíduo vê o mundo, assim também se vê a si próprio, e para isto não se precisa de nenhuma coragem. Por isto é sempre fatal não ter nenhuma cosmovisão (JUNG, OC 8/2, §697).
“A imagem do mundo pode mudar a qualquer tempo, da mesma forma como o conceito que temos de nós próprios também pode mudar. Cada nova descoberta, cada novo pensamento pode imprimir uma nova fisionomia ao mundo” (JUNG, OC 8/2, §700). Por isso é preciso sonhar o mundo com o mundo, porque uma transformação concreta começa a germinar no território do símbolo, do mito e do imaginário. Sonhar o mundo é permitir que ele nos visite em imagens, em presságios, em silêncios. É escutar a Terra nas premissas dela, como nos disse Krenak (2024). É abandonar a ilusão de que o real se reduz ao concreto e reconhecer que tudo aquilo que tocamos com a alma também se transforma.
Munduruku (2021) afirma que “para os indígenas, um sonho contado é um sonho para todos. O sonho não é só individual, mas da tribo, pois os sonhos são a alma do mundo”.
Na tradição indígena brasileira[2], os sonhos são tratados como acontecimentos de natureza relacional, que dizem respeito à coletividade. Sonhar é abrir um canal entre mundos e, por isso, muitas comunidades partilham seus sonhos em momentos rituais e circulares. Nessas rodas de sentido, o sonho se torna palavra viva, uma espécie de conselho dos ancestrais, um sopro do sagrado, e sua partilha reforça o pertencimento, alimenta a memória coletiva e sustenta o elo com o mundo espiritual. David Kopenawa, xamã e importante líder yanomami, diz que nós desaprendemos de sonhar: “Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis” (KOPENAWA, 2015, p. 390).
Poeticamente, os sonhos são as vozes do inconsciente que escapam à censura do ego, e revelam tanto conteúdos do inconsciente pessoal quanto coletivo. Jung postula que o inconsciente coletivo é constituído por instintos e arquétipos, que são estruturas universais que não possuem conteúdo definido, mas que organizam a experiência humana em torno de imagens simbólicas.
Esses arquétipos possuem característica psicóide, ou seja, situam-se na fronteira entre o psíquico e o somático, sendo ao mesmo tempo vividos subjetivamente e expressos objetivamente em mitos, sonhos, rituais, obras de arte, fenômenos naturais etc. É justamente essa característica que permite a emergência de experiências que transcendem a dualidade entre sujeito e objeto, o que Jung reconhece como a base experiencial do unus mundus, onde psique e matéria são compreendidas como dois aspectos de uma mesma realidade.
Assim, os arquétipos estruturam a alma individual e revelam a existência de uma profunda ordem simbólica que permeia todas as coisas, fazendo do inconsciente coletivo o solo fértil onde a Anima Mundi e a alma humana se entrelaçam.
Sendo assim, sonhar é uma travessia pelos múltiplos igarapés da alma, onde o fluxo do rio da vida se entrelaça ao grande rio ancestral.
Mesmo quando carregado de resquícios do dia a dia, aponta para algo mais amplo, a uma sabedoria que excede a experiência individual. É nesse ponto que arrisco a refletir que talvez sonhar flerta com a concepção de unus mundus, pois não há separação entre fantasia (inconsciente) e concreto (ego), psique e matéria, sujeito e objeto, eu e mundo, pois tudo está simbolicamente entrelaçado. Enquanto o inconsciente pessoal oferece imagens que pedem elaboração ou integração (complexos), o inconsciente coletivo nos oferece imagens que tocam o mistério (arquétipos). No fundo, o sonho é uma tentativa de reconectar o indivíduo ao si-mesmo. É o inconsciente nos chamando de volta ao centro de nosso mundo interior, à linguagem da alma.
Ao propor o entrelaçamento entre a cosmovisão indígena e o pensamento junguiano, somos conduzidos à percepção de um mesmo alicerce, da existência como um tecido simbólico e relacional, onde tudo se comunica em silêncio e significado.
Tanto os sonhos partilhados nas rodas dos povos originários quanto os símbolos que emergem em nosso inconsciente falam da mesma busca por inteireza, conexão e sentido.
Quando nos dispomos a escutar os sonhos da Terra com a mesma reverência com que escutamos os sonhos da alma, tocamos a essência do unus mundus e, nesse gesto, abre-se a possibilidade de restaurar um pacto simbólico com a vida, onde o mundo deixa de ser um recurso inerte à disposição do ego e se reconfigura como espelho da alma.
Como provoca Krenak (2024), talvez o grande chamado do nosso tempo seja nos reencantar com a ampliação da percepção de integração, devolver alma ao mundo e permitir que ele nos toque, nos eduque, nos sonhe.
Que possamos, portanto, sonhar o mundo com o mundo e, nesse sonho compartilhado, reencontrar o pertencimento perdido, o sagrado esquecido, e a inteireza que pulsa silenciosa em tudo o que vive.
Me. Daniela Euzebio – Membro Analista IJEP
Dra. E. Simone Magaldi – Membro Analista Didata IJEP
Referências:
HOLLIS, James – A Sombra Interior – Por que pessoas boas fazem coisas ruins? São Paulo: Novo Século, 2010
JUNG, Carl Gustav. A Natureza da Psique. Petrópolis: Vozes, 2014 (Obras completas v. 8/2).
JUNG, Carl Gustav. A vida simbólica. Petrópolis: Vozes, 2015 (Obras completas v. 18/1).
JUNG, Carl Gustav. Ab-reação, análise dos sonhos e transferência. Petrópolis: Vozes, 2012 (Obras completas v. 16/2).
JUNG, Carl Gustav. Civilização em transição. Petrópolis: Vozes, 2013 (Obras completas v. 10/3).
JUNG, Carl Gustav. O Eu e o Inconsciente. Petrópolis: Vozes, 2016 (Obras completas v. 7/2).
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu. São Paulo: Companhia das Letras, 2015
MUNDURUKU, Daniel. Das coisas que aprendi: ensaios do bem-viver. Lorena: DM Projetos Especiais, 2019
MUNDURUKU, Daniel; GAMBINI, Roberto; HAURÉLIO, Marcos. Sobre Mitologias e Outras Narrativas: https://www.youtube.com/watch?v=9h6oq3Gc58M&t=910s. Acessado em 21 de abril de 2021.
OLIVEIRA, Maria Victória. Temos que ter a coragem de ouvir a terra, afirma Krenak. Disponível em: https://revistacasacomum.com.br/temos-que-ter-a-coragem-de-ouvir-a-terra-afirma-ailton-krenak/. Acesso em 04 julho 2025
RONDONIAGORA. Disponível em: https://www.rondoniagora.com/negocios/o-papel-dos-sonhos-na-cultura-indigena-brasileira. Acesso em 04 julho 2025.
[1] Fonte: Revista Casa Comum. Disponível em: https://revistacasacomum.com.br/temos-que-ter-a-coragem-de-ouvir-a-terra-afirma-ailton-krenak/. Acesso em 04 julho 2025.
[2] Fonte: Rondoniagora. Disponível em: https://www.rondoniagora.com/negocios/o-papel-dos-sonhos-na-cultura-indigena-brasileira. Acesso em 04 julho 2025.