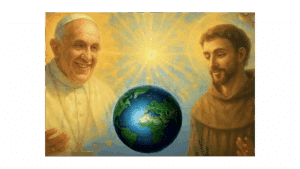Neste artigo, exploramos de que modo o espírito da época — conjunto de valores, pressões invisíveis e movimentos coletivos que moldam uma geração — pode potencializar a drogadicção, com maior impacto sobre os jovens. Partimos do reconhecimento de que a dependência pode se manifestar em diferentes substâncias, sejam lícitas (como álcool, tabaco e alimentos ultraprocessados) ou ilícitas. Sob a ótica junguiana, investigamos a psicodinâmica por trás desse fenômeno, analisando como o Zeitgeist contribui para seu crescimento. Mais do que um problema de saúde individual, a drogadicção emerge, assim, como sintoma de um desequilíbrio psíquico coletivo, convidando-nos a refletir sobre suas causas e o contexto social que a sustenta.
A relação entre a legalidade das drogas e os riscos que elas representam é frequentemente distorcida por noções culturais e políticas, levando muitos a acreditar que substâncias lícitas, como álcool e tabaco, são menos perigosas do que drogas ilícitas.
No entanto, pesquisas científicas, como o estudo de Nutt, King e Phillips (2010) publicado na The Lancet, demonstram exatamente o oposto. Utilizando uma metodologia robusta de análise multicritério (MCDA), os pesquisadores avaliaram 16 parâmetros de danos, desde mortalidade e dependência até impactos sociais e econômicos, e chegaram a conclusões que desafiam o senso comum.
O álcool emergiu como a substância mais danosa no geral, com uma pontuação de 72 em 100, superando até mesmo heroína e crack, principalmente devido aos seus enormes danos sociais, como violência, acidentes e custos para os sistemas de saúde.
O tabaco, por sua vez, também se mostrou mais prejudicial do que substâncias como LSD e ecstasy, especialmente em critérios como dependência e danos físicos de longo prazo.
Esses dados revelam uma desconexão alarmante entre as políticas de drogas e as evidências científicas, mostrando que a proibição não reflete necessariamente o perigo real das substâncias. No contexto brasileiro, onde álcool e tabaco são amplamente acessíveis e culturalmente aceitos, esses achados ressaltam a urgência de repensar a visão moralista da sociedade sobre algumas substâncias, nem sempre o que é liberado, é o mais seguro.
O consumo de drogas, como cocaína, crack e derivados de anestésicos, tem crescido significativamente entre jovens no Brasil.
Dados do Ministério da Saúde revelam que, em 2021, o SUS registrou 400,3 mil atendimentos relacionados a transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool, com maior prevalência em homens entre 25 e 29 anos.
Pesquisas da Unifesp apontam ainda que o consumo abusivo de álcool é alto entre jovens de 18 a 34 anos, indicando um padrão de comportamento de risco que abrange substâncias lícitas e ilícitas, revelando a faixa etária mais afetada.
Drogadicção não é falha moral
Rotular a dependência química como “fraqueza”, “desvio de caráter” ou “falha moral” não é apenas um equívoco, é uma violência, não considerar a etiologia do fenômeno é no mínimo um desrespeito com o sujeito. Essa narrativa unilateral e moralista, tão enraizada em nossa sociedade, revela mais sobre nossa ignorância do que sobre a realidade do vício. Enquanto o problema se resumir a “falta de força de vontade”, perderemos de vista questões etiológicas do fenômeno: uma teia que reúne vulnerabilidades psíquicas, físicas, biológicas, comportamentos aprendidos, sofrimentos subjetivos, uma multiplicidade de traumas e um contexto social que adoece o individuo antes mesmo do primeiro encontro fugaz com as drogas.
A contradição fica evidente: uma sociedade que glorifica o consumo desenfreado de remédios, álcool, redes sociais e compras, é a mesma que condena o dependente químico como “fracassado”.
Em vez de questionar as forças que arrastam o indivíduo ao abismo antes mesmo de sua estruturação egóica e do amadurecimento da consciência, estruturas importantes para um discernimento crítico, a sociedade prefere criminalizar e marginalizar. Paralelamente, o coletivo trata a dor e o sofrimento com paliativos morais: discursos vazios de superação, autoajuda e psicologia positiva que usados dessa forma apenas encobrem as feridas. Estas, em sua profundidade, demandam políticas públicas efetivas, acolhimento genuíno e uma ampla revisão de como nossa cultura compreende e trata a alma humana.
Longe de ser uma anomalia, o vício se revela como o sintoma mais puro do próprio sistema.
A verdadeira falha talvez não esteja no adicto e sim na insistência em expiá-lo como um “problema” a ser varrido para debaixo do tapete, e não como um espelho das contradições e dores coletivas do nosso tempo.
Uma ressalva fundamental se impõe como eixo central para compreender a classificação de alguém como adicto (dependente químico): a substância em si não é o elemento determinante que define sozinha a unilateralidade do padrão de uso ou o transtorno psíquico subjacente. O que verdadeiramente caracteriza a dependência é a natureza complexa da relação que se estabelece com a substância, relação esta marcada por algumas dimensões cruciais: a forma de utilização, a intensidade desregulada, a compulsividade no uso e o grau de dependência desenvolvido com a substância.
O consumo problemático de drogas jamais poderá ser compreendido através de uma análise superficial que se limite a examinar a substância consumida de forma isolada. Tal abordagem reducionista falha por completo em captar a realidade multifacetada da dependência química. É imprescindível considerar a complexa teia de fatores interconectados que compõem o contexto do uso – uma dinâmica multifatorial que abrange vários aspectos: os aspectos biológicos, os componentes psicológicos (como traumas não resolvidos e disposições psíquicas herdadas), as dimensões sociais (pressões do ambiente e condições de vida).
Por que o usuário é chamado de “adicto”?
A etimologia da palavra adicto é uma janela para o paradoxo humano. No Latim, addictus, particípio passado de addicere, carregava sentidos ambíguos: “entregar, premiar, devotar”, mas também “vender, trair”. O termo designava o devedor romano escravizado por suas próprias obrigações, corpo e liberdade confiscados por um credor implacável. Séculos depois, o usuário moderno repete o gesto arcaico: entrega-se a uma substância ou comportamento como quem consagra um ritual, descobrindo, tarde demais, que o objeto de devoção o traiu. A química do prazer efêmero exige pagamentos crescentes, fragmentos de liberdade e lascas de identidade, até que a escolha inicial se revela uma servidão sem saída.
Há uma ironia cruel nessa dinâmica. Addicere significava também “adicionar”: o vício começa como um suposto acréscimo à vida, um complemento de prazer ou controle. Mas o que se adiciona acaba por subtrair.
O adicto acredita, no início, que domina o jogo, até perceber que é peça num tabuleiro arquetípico, onde liberdade e escravidão, devoção e traição, se entrelaçam. A palavra, como o fenômeno, é dupla: declarar (dicere) um vínculo (ad) pode ser tanto um ato de entrega quanto uma sentença. Chamar alguém de “adicto”, portanto, não é reduzir sua luta a uma falha moral. É reconhecer que ele revive um drama antigo em busca de transcendência mas acaba sendo “adicionado” a um sistema de dependência. A história da palavra expõe a armadilha: o que começa como devoção (a um prazer, um hábito, um escape) termina como traição à própria autonomia. E o corpo, como outrora o addictus romano, paga a dívida.
A Era do Anestesiamento: sociedade e sofrimento
Antes de olharmos para o jovem em seu uso disfuncional de substâncias, é preciso questionar: não seria a própria sociedade esse “monstro drogadictivo”, viciado em consumo, velocidade e felicidade instantânea?
Uma cultura que esgota o planeta enquanto tenta, em vão, preencher um vazio existencial.
O consumo de objetos, entretenimento ou drogas pode atuar como um grande anestésico pessoal e coletivo, amortecendo a angústia individual e os incômodos de um mundo que exige produtividade constante, negando outros sentidos e formas de existir. Vivemos um momento social obcecado por performance, que sussurra aos que não se encaixam no padrão: “Se não consegue, é porque não se esforçou o suficiente.”
Que ideais inalcançáveis são esses, lançados sobre as novas gerações?
A pressão pelo sucesso, a solidão hiperconectada e a comparação incessante criam um terreno fértil para escapes, das drogas aos vícios em trabalho, likes ou consumo.
Enquanto a sociedade se intoxica em seu próprio ritmo insano, os jovens herdam um desespero mascarado de progresso, onde as substâncias são apenas sintomas de um mal maior: a complexidade para lidar com o sofrimento em um sistema que idolatra o bem-estar superficial.
Como observa Byung-Chul Han em A Sociedade Paliativa:
Vivemos em uma sociedade da positividade, que busca se desonerar de toda forma de negatividade. A dor é a negatividade pura e simplesmente. Também a psicologia segue essa mudança de paradigma e passa, da psicologia negativa como “psicologia do sofrimento”, para a “psicologia positiva”, que se ocupa com o bem-estar, a felicidade e o otimismo’. Pensamentos negativos devem ser evitados.
(Han, 2021, p. 11)
Nesta fase da sociedade que estamos chamando de Era do Anestesiamento, a dor ou o sofrimento antes parte crucial do amadurecimento foi substituído por uma obsessão pelo bem estar imediato. Qualquer dor é silenciada com paliativos, criando um paradoxo: ao evitarmos o sofrimento, perdemos a capacidade de enfrentar nossas crises existenciais. Surge então uma condição perversa: em um mundo onde os ideais são inalcançáveis e o fracasso é culpa individual, anestesiar-se pode tornar-se não apenas uma opção, mas um imperativo para sobreviver ou pertencer. Se anestesiar de alguma forma se tornou a condição essencial (conditio sine qua non) para habitar esse mundo.
O espírito da época e seus afetos
Para Jung, o espírito da época (Zeitgeist) é a atmosfera psíquica dominante de uma era, uma síntese das ideias, valores e impulsos coletivos inconscientes que ganham força consciente em determinado momento histórico. Ele surge da tensão entre arquétipos do inconsciente coletivo e as demandas sociais, funcionando como um ‘sopro invisível’ que orienta o pensamento e a cultura. Sobre os efeitos do espírito da época Jung diz:
Não se deve brincar com o espírito da época, porque ele é uma religião, ou melhor ainda, é uma crença ou um credo cuja irracionalidade nada deixa a desejar, e que, ainda por cima, possui a desagradável qualidade de querer que o considerem o critério supremo de toda a verdade e tem a pretensão de ser o detentor único da racionalidade. O espírito da época não se enquadra nas categorias da razão humana. É uma propensão, uma tendência sentimental, que, por motivos inconscientes, age com soberana força de sugestão sobre todos os espíritos mais fracos de nossa época que os arrasta atrás de si.
(Jung, 2013b p.296)
Aqui fica o alerta para o caráter dogmático do Zeitgeist: ele se impõe como religião ou crença, irracional e autoritária, que exige adesão incondicional, seguindo as normas cegamente. Esse espírito coletivo opera por sugestão inconsciente, dai vem sua força incontrolável, afetando em maior escala aqueles que estão mais fragilizados (considerando as diversas realidades). Sua pretensão de monopolizar a verdade e a racionalidade é justamente sua irracionalidade maior, negando o inconsciente que o move. Resistir a ele não é tarefa fácil, apesar de parecer simples questionar as “verdades” de cada era, o simples se revela em grande maioria muito complexo.
Jung também ressalta a característica de parcialidade desse espírito: excluindo aspectos da psique que, mais tarde, podem emergir como revoluções ou crises revelando o eterno diálogo entre o que uma época celebra e o que ela reprime.
A alma humana não é apenas produto do espírito da época, mas algo bem mais estável e imutável. O “século XIX” é um fenômeno local e passageiro que apenas depositou uma camada relativamente fina de poeira sobre a velha alma da humanidade.
(Jung, 2013a p. 45)
Embora a alma humana aspire que o individuo transcenda o espírito da época, não se pode subestimar sua influência, sobretudo nos jovens, ainda em formação.
Nessa fase de tensão, estruturação do ego e assimilação dos múltiplos aspectos da personalidade, surgem desafios cruciais: a diferenciação das imagos parentais, a consolidação da individualidade, a busca por pertencimento e outras transformações intensas que se desdobram singularmente. A predominância do uso de drogas entre jovens não é um acaso estatístico, mas uma possível manifestação do afeto gerado pelo espírito da época, atuando em uma fase especialmente vulnerável da psique.
Jung destaca, em O Desenvolvimento da Personalidade, que a juventude é regida pela “psicologia do amanhecer”: um período em que o ego, ainda em estruturação, busca se afirmar no mundo, enquanto é pressionado por demandas internas e externas.
Em contextos como o do Brasil, onde violência, desigualdade e falta de perspectivas corroem o futuro antes mesmo de sua construção, é compreensível que muitos jovens recorram às drogas seja como escape, seja para aliviar o sofrimento ou acessar estados alterados de consciência, como euforia, sensação de invencibilidade ou esquecimento.
A arte e o Zeitgeist
Nas últimas décadas, testemunhamos uma enxurrada de obras feitas pela juventude, incluindo: músicas, filmes, pinturas e outras que, muitas vezes sem intenção explícita, espelham essa tensão fundamental de nossa era: de um lado, a glorificação do sucesso material, o culto ao bem estar superficial, e o acúmulo de riquezas como medidas de valor pessoal; de outro, uma crescente nostalgia por conexões autênticas, por relações que transcendam a superficialidade e por experiências que acolham o sofrimento e a falta, como experiências inerentes da natureza humana.
Jung percebeu que o artista atuava como “porta-voz inconsciente dos segredos espirituais de sua época“. Esse fato revela-se especialmente pertinente para nossa ampliação quando examinamos como a produção artística contemporânea tem retratado o dilema humano entre consumo compulsivo de substâncias e a busca por outros significados:
O artista é sem querer o porta-voz dos segredos espirituais de sua época e, como todo profeta, é de vez em quando inconsciente como um sonâmbulo. Julga estar falando por si, mas é o espírito da época que se manifesta e, o que ele diz, é real em seus efeitos.
(Jung, 2013a p. 123)
A arte emerge como voz crítica que expõe o abismo entre as exigências superficiais do Zeitgeist e as necessidades profundas da psique. Através de símbolos, metáforas e narrativas, ela revela o que a racionalidade dominante insiste em negar: nosso anseio por transcendência, autenticidade e conexão. Enquanto o espírito da época impõe padrões de produtividade e consumo, a arte resgata o sagrado, o inconsciente e o paradoxal, justamente partes que a sociedade reprime.
Nesse sentido, mais que denúncia, a arte oferece caminhos de resistência: ela reinterpreta arquétipos, cria novos ritos e, sobretudo, lembra que a alma humana não cabe nos moldes estreitos de qualquer época. Nesse contexto, a arte se torna não apenas um espelho, mas um mapa potencial para revelar saídas deste labirinto de consumo compulsivo.
O mundo em transição
De fato, vivemos uma era de grandes mudanças e avanços acelerados na ciência e tecnologia, mas que paradoxalmente ampliam nossas contradições. Cada conquista traz novos desafios, revelando que progresso material nem sempre significa evolução humana integral. Quanto mais luz criamos, mais complexas se tornam nossas sombras.
Nossa civilização passa por um período de profunda transformação, onde o uso de drogas entre jovens não é um fenômeno isolado, mas talvez um sintoma de reestruturação coletiva tão intensa quanto outras viradas de era na história humana. Cada época tem seus “remédios” e seus “venenos” psíquicos. E as substâncias que consumimos podem refletir, muitas vezes inconscientemente, as dores e os anseios de um mundo em transição.
Sobre os efeitos das mudanças de cada época, Jung diz:
A exigência que surge em tais situações é a de uma nova interpretação dos arquétipos em correspondência com o espírito da época, que represente a respectiva compensação da situação modificada da consciência.
(Jung 2012 p.346)
A reflexão sobre a necessidade de uma “nova interpretação dos arquétipos em correspondência com o espírito da época” oferece um ponto valioso para compreender o aumento do uso de drogas em nossa sociedade.
Vivemos tempos marcados por paradoxos profundos: enquanto experimentamos uma hiperconexão digital sem precedentes, a solidão se torna cada vez mais aguda; cultuamos a produtividade como valor supremo, mas colhemos um grande sofrimento e esgotamento mental; temos acesso a uma abundância de informação jamais vista, mas enfrentamos uma crise generalizada de sentido. Nesse contexto complexo, as drogas tanto lícitas quanto ilícitas frequentemente aparecem como uma forma de compensação arquetípica para essas contradições fundamentais do nosso tempo.
Essa compensação pode se manifestar de maneiras distintas.
Por um lado, temos a compensação por oposição, quando substâncias psicodélicas ou alteradoras de consciência são usadas justamente para potencializar o contato com o mundo interno, como uma reação à excessiva racionalização da vida moderna.
Por outro, observamos o que poderia ser chamado de compensação por exagero. Quando estimulantes ou ansiolíticos são empregados para ajudar o indivíduo a se manter dentro dos moldes exigidos pela sociedade de produção e consumo. Seja aumentando artificialmente o desempenho, seja aliviando a pressão do sistema.
Em ambos os casos, o fenômeno das drogas revela-se como sintoma de uma cultura que falhou em ressignificar seus símbolos e ritos de maneira a atender às necessidades profundas da psique humana contemporânea.
Como Jung alerta, ignorar essa demanda por reinterpretação pode ser perigoso.
Se os jovens buscam nas drogas respostas arquetípicas (pertencimento, fuga, transcendência), aonde estão as atividades que possam oferecer rituais saudáveis que as substituam: desde espaços de arte, conexão com o sagrado e até políticas que se aproximem das raízes do vazio contemporâneo, e não apenas de seus sintomas.
Como demonstrado, o espírito da época revela-se como uma das forças psíquicas influentes no fenômeno da drogadicção. Atuando como pano de fundo coletivo, ele influencia especialmente os jovens, seja na busca por alívio imediato, estados alterados de consciência ou performance artificial para se adequar às demandas de uma sociedade de consumo e performance. Essa análise revela que o uso problemático de substâncias não é mera escolha individual, mas sintoma de um desequilíbrio cultural mais profundo, mostrando uma das camadas de complexidade do fenômeno.
As soluções não se limitam à abstinência pura ou à idealização do uso, mas exigem um enfrentamento real dos vazios existenciais que as substâncias podem mascarar. Esse processo poderia ocorrer por meio da psicoterapia, integrada a um suporte multidisciplinar que inclua acompanhamento médico, psiquiátrico e físico, entre outros, garantindo um olhar mais completo para o individuo que atravessa essa condição.
Como provocação final, talvez valha a pena perguntar: o que sua “droga cotidiana” seja o café matinal, o chocolate no fim do dia ou a compulsão por notificações, revela sobre as dinâmicas e feridas que esperam por integração?
Guilherme Duque – Membro Analista em Formação IJEP
Waldemar Magaldi- Analista Didata IJEP
Referências:
HAN, Byung-Chul. Sociedade Paliativa: A Dor de Hoje. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2021.
JUNG, C. G. A Natureza da Psique. Petrópolis: Vozes, 2013b.
JUNG, C. G. Mysterium Coniunctionis Rex vol.2. Petrópolis: Vozes, 2012.
JUNG, C. G. O espírito na arte e na ciência. Petrópolis: Vozes, 2013a.
NUTT, David J.; KING, Leslie A.; PHILLIPS, Lawrence D. Drug harms in the UK: A multi-criterion decision analysis. The Lancet, London, v. 376, n. 9752, p. 1558-1565, 6 nov. 2010.

Matrículas abertas: www.ijep.com.br
Arteterapia e Expressões Criativas
Acesse nosso Canal no YouTube: +700 vídeos de conteúdo Junguiano!